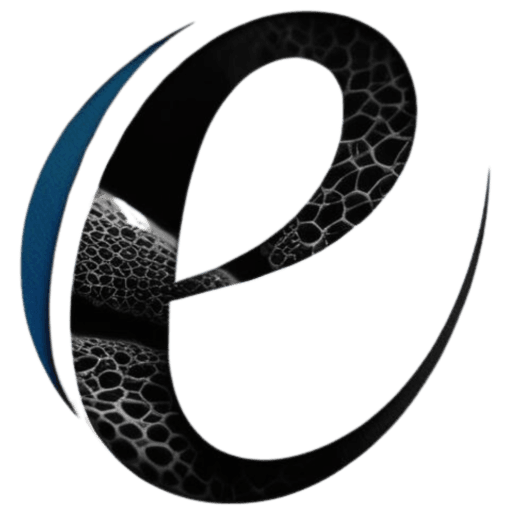Os Cadáveres de argila

Mergulhe no Conto O Horror de Hidrolândia, um conto onde mistério e sobrenatural se encontram nos corredores de uma escola envolta em nevoeiros. Entre terrores da infância e reflexões sobre a saúde mental, enfrente os enigmáticos Cadáveres de Argila nesta história de tirar o fôlego. Boa leitura!
O Horror de Hidrolândia
Fugir foi fácil. Difícil foi aceitar que aquilo era medo. Covardia, talvez — e até uso essa palavra com certo desgosto, porque ela gruda na gente como lama seca, dessas que nem sabão de pedra resolve. Mas não vou mentir: eu fugi. De cabeça baixa, com o coração aos tropeços e a alma feita de remendos.
O medo tinha forma. E cheiro. E um jeito de cochichar pelas frestas da casa, de se esconder debaixo das camas e aparecer nas paredes, nos espelhos, nos sonhos. Ele me olhava de dentro das sombras. Soprava no meu pescoço com um hálito frio, como se fosse o próprio vento contando causos goianos, de tempos sombrios, que ninguém deseja ouvir.
Foi quando me restou só isso: escrever. Sentei à mesa, papel sob os dedos trêmulos, e deixei as palavras saírem feito bicho ferido. Não era por vaidade, nem pra agradar ninguém — era pra ver se doía menos. Cada linha, uma tentativa de costurar as feridas que eu já nem sabia se eram minhas ou da cidade.
Mas escrevo também pra alertar. Porque, às vezes, o que a gente chama de lenda é só uma verdade que foi enterrada com vergonha. O Ribeirão das Grimpas… ele não é só um riacho. É uma boca aberta no chão da cidade. E tem fome. E quem entra achando que vai sair limpo, sai menos gente.
Então escutem — não só com os ouvidos, mas com o silêncio do corpo: não deixem ninguém se banhar ali achando que água suja leva embora mágoa. Tem dor que só muda de forma.
Preciso contar um pouco da minha infância — não por nostalgia, longe disso. É que tem certas lembranças que se negam a morrer, e sem elas, tudo o que eu disser a seguir pode parecer exagero, delírio, invenção. Mas não é.
Não sei se o que vivi naquela época se conecta diretamente com os demônios que vieram depois, ou se tudo já estava ali, disfarçado no silêncio das madrugadas em que eu virava de um lado pro outro, ouvindo a casa respirar. Sei que a escuridão parecia viva. E os barulhos da noite, juntos, faziam uma música que ninguém nunca quis ouvir: a sinfonia do medo.
Talvez tenha começado antes disso. Com gestos frios, pequenos demais pra chamar de violência, mas calculados o suficiente pra deixar uma cicatriz no fundo do peito. Coisas ditas em tom baixo pelo meu pai. Coisas que não se apagam.
Era minha última semana na quarta série. Eu devia estar feliz, me despedindo daquele prédio estranho com suas paredes azul-celeste e cheiro constante de jasmim molhado. Mas tudo ali me parecia errado, como se a escola inteira estivesse doente — ou assombrada.
No fim das aulas, quando soava o último sinal, a escola mudava. Era como se a luz se cansasse. As sombras se esticavam pelos corredores. Um nevoeiro espesso tomava conta do lugar, brotando do chão, como se a terra tossisse sua raiva e seu descontentamento com aqueles que viviam pisando nela.
Era um nevoeiro diferente. Não desses úmidos que a gente vê no campo de manhã. Era pesado. Sujo. Tinha cor — uma cor preta, grossa, de argila do fundo do riacho. O mesmo barro das margens do Ribeirão das Grimpas, onde ninguém se banhava sem sair marcado pelo agouro dos brejos.
E então, tudo era engolido: os telhados, os azulejos lavados, o pátio com suas manchas no cimento queimado. A cidade parecia apagar a escola com esse nevoeiro vivo — numa tentativa desesperada de esconder o que acontecia ali.
Fora dos portões, a vida seguia, mas de um jeito estranho. O ônibus da capital chegava, as pessoas desciam devagar, com a cara de quem viu coisa ruim no caminho. Olhavam pro chão. Pro lado. Mas nunca pra escola.
Ninguém ousava encarar aquele lugar de onde brotava as sombras. Isso era sagrado. Como se só o ato de olhar pudesse acordar alguma coisa lá dentro. Os pais dos alunos se espiavam discretamente, um sinal no olhar, quase uma oração silenciosa:
“Tomara que os meninos tenham saído a tempo.”
A tensão era quase física. O ar tinha um peso estranho, como se carregasse uma maldição dessas de histórias de terror. E aquele cheiro… uma mistura esquisita de argila molhada com flor de beira de estrada. Um perfume bonito demais pra um lugar tão triste. Bonito e doído — feito lembrança ruim que a gente tenta esconder num canto da alma, mas que insiste em voltar.
O sol ainda estava lá, brilhando num descompasso ingênuo, alheio ao que se passava, mas sua luz parecia fraca. Distorcida. Tinha que atravessar algo denso antes de tocar o chão. As sombras, que deviam ser só sombras, se esticavam nos muros e dançavam feito gente com dor nos ossos. E tudo isso levava pra um único ponto: a escola. Um prédio comum. Comum demais. E talvez fosse isso o mais assustador.
Porque dentro daquela normalidade morava um tipo de medo que não se explica com palavras. Só se sente. E os que sentiam, os que moravam ali, sabiam: bastava pensar na escola pra sentir um arrepio subindo devagar pelas costas, como se alguém passasse os dedos gelados por dentro da camisa.
Não demorou muito e o zunzunzum chegou em Goiânia. Repórteres apareceram com seus equipamentos modernos e olhos arregalados. Vieram em busca de histórias, notícias que dão capa e manchete. Mas saíram com as mãos vazias. Ninguém falou. Ninguém olhou nos olhos. A cidade toda virou pedra.
Bocas cerradas. Olhares desviados. O tipo de silêncio que fala mais alto do que qualquer entrevista. Um silêncio de cemitério recém-fechado. Um pacto descabido, mas obedecido com uma precisão quase religiosa.
E assim, sem provas, o que restou foram os boatos. Fragmentos de histórias sopradas entre goles de cachaça ou no banco da praça, ditas sempre em voz baixa. Coisa de bêbado. Coisa de louco. Ou de quem viu demais e teve que fingir que esqueceu.
Não vou fingir que entendo a origem do nevoeiro. Nem pretendo acusar os pais das crianças ou apontar o dedo pro medo disfarçado de descrença que tomou conta da cidade. Eles diziam, com aquele riso seco que tenta esconder a inquietação:
“Essa gente da capital deve é estar de olho na nossa argila preta.”
Mas eu lembro. Lembro bem. E o que me inquieta até hoje não são as palavras. São os olhos. O jeito como evitavam falar do assunto. O jeito como a voz mudava. Como o rosto endurecia.
Havia algo ali. Algo que não cabia nas frases. Um susto guardado. Uma sombra atrás dos olhos. Como se, no fundo, cada um deles carregasse um pedacinho do segredo da escola ou da cidade inteira — e fingisse que não.
É essa parte contida no peito, essa angústia reprimida, essa coisa que ninguém assume mas todos sentem, que me empurra de volta a essa história. Porque alguma coisa está enterrada naquele lugar. E eu preciso, nem que seja só por mim, descobrir o que.
Cresci em Hidrolândia cercado de histórias que pareciam maiores que a própria cidade. Histórias que andavam sozinhas, que batiam à porta no fim da tarde, que se escondiam nos quintais e sussurravam nos galhos das mangueiras e das jaboticabeiras. Lendas de gente transformada em barro, de olhos que viravam pedra e de corpos que sumiam nas águas do ribeirão como se nunca tivessem existido.
Mas ainda não é hora de contar essas histórias. Não por medo — já passei da fase do medo puro. Nem por desleixo. É só que a memória, às vezes, exige que a gente vá por partes. E a parte que agora se impõe, como um vulto parado à beira da estrada, é o caso do Poço Velho. Os desaparecimentos. As ausências que ninguém conseguiu explicar.
Soube dessas coisas meio sem querer: de ouvido em ouvido, no compasso lento das tardes quentes, enquanto meu avô cochilava na velha cadeira de balanço. Um homem dobrado pelo tempo, cheio de silêncios e murmúrios, que deixava escapar seus fantasmas entre uma tragada e outra do fumo de rolo.
Depois do almoço, ele mascava fumo devagar, os olhos meio fechados, o rosto calmo — calmo demais, como se estivesse conversando com alguém que só ele via. O cheiro do tabaco misturava-se com o do feijão no fogão e com a poeira das ruas. E era então, entre um estalo da cadeira e outro, que ele falava.
Não era um falar direto. Não se dizia “isso aconteceu” ou “aquilo foi verdade”. Era mais um sopro de coisa antiga, uma frase quebrada no meio, um nome murmurado, um olhar perdido que dizia mais do que qualquer palavra.
De repente, ele cuspia no canto da parede. O mesmo lugar, sempre. Uma mancha marrom de fumo esmagado que se somava às outras. E eu, menino, ficava ali olhando praquelas marcas como quem olha um mapa sem sentido. Sabia que cada cuspe vinha de um pensamento pesado. De um susto que ele se recusava a contar por inteiro.
E sua voz — aquela voz grave, cansada — misturava-se ao ranger da madeira da cadeira, ao balanço hipnótico do tempo, até virar quase um canto. Um canto que chamava os mortos pelo nome. E que, às vezes, parecia mesmo trazer de volta os espectros de Hidrolândia. Foi assim que me tornei um arquivo vivo das histórias da cidade.
***
Nos minutos que antecediam o último sinal da tarde, o tempo parecia mudar de forma. A sala se encolhia em silêncio. Cada um de nós já tinha guardado o estojo, fechado a mochila com um cuidado religioso, como se aquele gesto simples fosse algum tipo reverência ao que estava por vir.
A tensão era um corpo à parte. Respirava entre nós. Cada pensamento, um suspiro preso. Cada olhar, fixo no nada, como se quisesse escapar daquilo que sabíamos — mas não dizíamos — que ia acontecer.
A professora não falava. Sentada, mas pronta. Um pé firme no chão, o outro só com a pontinha tocando o piso, os dedos abertos, duros, quase garras. Os olhos dela vasculhavam a sala, buscando uma saída onde não há. Os lábios contraídos. As mãos inquietas. Tinha o ar de que, mesmo adulta, ela também estivesse esperando que o nevoeiro entrasse.
E entrava. Sempre entrava. Ainda que a janela estivesse fechada, a gente sentia o nevoeiro se formando lá fora. Um bafo úmido no ar. Um silêncio mais grosso.
E era isso: o silêncio. Tão espesso que parecia uma parede. Nem as moscas. Até elas sumiam nessa hora, como se soubessem mais do que nós. A luz da sala ficava estranha, fraca, vinha de outro mundo. As sombras alongavam tudo, deixavam tudo torto, e o cheiro de giz e madeira se misturava com outro cheiro. Algo mais fundo. Um cheiro sem nome, que fazia o corpo inteiro ficar alerta.
A gente sabia. Sabia que era o momento. O momento em que o horror, aquele mesmo que andava solto por Hidrolândia, voltava a passar pela escola.
Foi nessa moldura que ela surgiu. Maria. Pelo menos, é assim que vou chamá-la aqui — não por invenção, mas por proteção. O nome verdadeiro dela carrega um peso que não ouso repetir. Seria como abrir uma porta que já devia estar selada.
Maria não parecia com a gente. Enquanto todos tremiam, ela era calma. Distante. Um tipo de beleza que doía. Meus amigos e eu achávamos que ela era a menina mais bonita da cidade. Mas a beleza dela não era dessas que encantam: era uma beleza que ameaçava. Uma beleza que dizia “cuidado” mesmo sem falar.
Os olhos dela… castanhos, mas não eram olhos que você encara com tranquilidade. Tinham um brilho estranho, como se ela tivesse vivido mais do que podia. E sabiam. Sabiam de coisas que a gente nem imaginava. E aquilo me prendia. Me hipnotizava. Me feria.
Não me lembro das outras meninas da classe. Eram boas, simpáticas, mas sumiam no fundo da cena. Não tinham aquele ímã cruel que Maria carregava. Eram mornas. E lembro de um sermão do Padre, daqueles de domingo quente, quando ele falava que Deus vomita os mornos. Pensei nisso uma vez, olhando para Maria. Ela não era morna. Ela queimava. Fria por fora, mas com um fogo interno diabólico, desses que só se sente quando já é tarde demais.
O corredor esticava a tensão até o limite. Ninguém ousava levantar o rosto. Tudo parecia prestes a explodir, mas ninguém sabia exatamente o quê. Sussurros, passos apressados, carteiras rangendo ao serem empurradas, o som abafado de mochilas arrastadas. O ar carregava o cheiro forte de produto de limpeza misturado ao suor dos alunos — um cheiro de medo disfarçado de rotina.
As sombras continuavam tomando tudo, projetando-se nas paredes com uma vontade própria. Algumas nem pareciam ter dono — dançavam sozinhas, inquietas, insinuando saber de algo que a gente ainda ignorava. E talvez soubessem mesmo, porque sua dança parecia um aviso. Um convite à fuga.
Foi quando vi Maria.
Ela estava ali, como sempre fora — mas, ao mesmo tempo, diferente. Com uma calma cruel, recebia moedas das mãos trêmulas de um menino. O coitado tremia por dentro e por fora. Os olhos cheios daquela adoração que só os tolos e os poetas conhecem. A voz dele falhava. E quando ela virou as costas, deixando-o ali com o choro engasgado, ninguém se espantou. Nem ela. Nem ele. Nem o mundo.
Ela caminhou até mim com uma leveza firme, os cabelos soltos ondulando como se o vento obedecesse só a ela. E os olhos — ah, os olhos. Me prenderam de um jeito estranho. Como se me vissem inteiro. Não só o de fora, mas o que se escondia em mim por dentro, nas dobras de minha alma.
Parou diante de mim. Pegou minha mão com uma delicadeza gelada. E disse:
— Venha comigo. E não faça perguntas.
A voz era baixa, mas havia nela algo que não se discutia. Era ordem e mistério. Um convite para atravessar uma porta sem saber o que havia do outro lado — e mesmo assim querer entrar.
Passamos quatro anos na mesma sala. Nunca trocamos uma palavra. E agora ela estava ali, me puxando como se soubesse exatamente o que estava fazendo — e eu, obedecendo como quem não tem escolha.
Um arrepio me subiu pela espinha. Não de medo, mas de uma sensação estranha de estar sendo arrancado de mim mesmo. Ainda assim, fui.
Antes de sair, olhei uma última vez para o menino que ela deixara para trás. Ele estava recostado na porta da sala dos professores, desmanchado. Os ombros curvados, o rosto vermelho, e em volta dele, um coro de risadas — não das boas. Risadas cheias de veneno. Aquelas que preferem o deboche à compaixão.
Naquele tempo, os alunos não se solidarizavam. Preferiam rir. Talvez fosse uma defesa. Talvez fosse maldade mesmo. Aquela era uma época sem meio-termo: ou você ria, ou chorava. E quem chorava, perdia.
Corremos até o portão. Saltamos. Caímos num canteiro de flores maltratadas, as pétalas esmagadas soltando um cheiro agridoce de dor recente. Espinhos arranhando a pele. O corpo ainda tentando entender o que estava acontecendo.
Mas eu só pensava no menino, temendo pelo pouco tempo que restava para ele sair. E olhei para trás.
A escola estava sendo engolida.
A luz do fim de tarde, que minutos antes pintava o pátio com tons dourados, começou a sumir. O nevoeiro — aquele mesmo — já estava lá, crescendo como uma doença. Atravessava os muros, engolia as janelas, apagava o azul das paredes. E a escola, embora fosse tarde clara, parecia cair na noite antes da cidade.
Uma noite que não vinha do céu. Vinha de dentro dela.
A cada passo que dávamos, o som dos nossos pés parecia mais distante. Era como se a rua tivesse engolido o eco, ou o próprio mundo segurasse o fôlego, esperando — não sabíamos o quê, mas algo que não devia vir.
Depois de alguns minutos, estávamos sentados no meio-fio, tirando espinhos das calças e carrapichos da blusa. O cheiro das flores amassadas ainda grudado no nariz, doce demais pra ser tranquilo. Maria arrancava um por um com uma calma que me irritava. Eu mal conseguia respirar.
Foi quando ouvimos.
O grito.
Um som tão agudo e desesperado que atravessou a tarde e congelou meu sangue. Um grito que parecia vir de dentro da terra, ou de um lugar onde a dor nasce. Olhei pra escola.
A cena parecia tirada de um sonho ruim, de um daqueles contos que meu avô contava com os olhos fechados. O portão da escola se abriu devagar, e de dentro dele surgiu algo que não caminhava — deslizava. Uma sombra densa, um contorno de menino feito de fumaça escura, se movia como se dançasse com o próprio vazio.
A rua, antes comum, ficou diferente. Mais estreita. Mais escura. Era como se o mundo ao redor se encolhesse para deixar passar aquele espectro.
As sombras que o envolviam começaram a se afastar devagar, cedendo espaço ao que vinha por trás. E então, à luz do sol — que ainda resistia, fraca — surgiu um menino.
Ou algo parecido com um.
Ele era translúcido. A pele pálida demais. Os olhos fundos, perdidos, sem brilho. Era como se a vida tivesse sido arrancada dele com cuidado. Sem deixar sangue, só ausência. Fiquei paralisado.
A imagem dele grudou em mim. Não sei se era medo ou reconhecimento, mas algo me dizia que eu já o conhecia.
“É só uma confusão visual”, pensei. Quis acreditar. Esfreguei os olhos com força, tentando fazer aquela visão sumir. Mas ela ficou. Mais nítida. Mais real.
E então percebi.
Aquele menino era o mesmo do corredor. O que chorava pelas moedas. O apaixonado. Mas agora, despido de tudo: da cor, do amor, da própria humanidade. A pele, os cabelos, até os olhos — tudo desbotado, lavado por dentro.
Ele deu alguns passos em nossa direção. Rígido. Lento. E parou diante de Maria.
O rosto dele, antes perdido, se transformou. Os olhos se apertaram. A mandíbula travou. E a raiva tomou conta do que restava da sua expressão. Toda a dor do mundo parecia reunida ali. Não era só um fantasma. Era um grito inteiro preso num corpo que já não sabia ser corpo.
O ar ao nosso redor pesou. Tudo ficou mais denso. Até o tempo parecia com medo de seguir.
Maria, por sua vez, não recuou.
E foi aí que algo ainda mais estranho começou a acontecer.
Maria o encarava com um sorriso discreto, quase debochado. Aquilo me fez estremecer. Como se ela soubesse algo que nós — eu e o espectro — não sabíamos. Um segredo do nevoeiro, guardado no fundo do peito ou nas raízes do chão.
Esfreguei os olhos de novo, esperando que, ao abri-los, tudo estivesse em seu lugar: a rua, a luz, os sons comuns da escola. Mas o que vi em seguida não estava em nenhum livro. Nem nas histórias do meu avô. Nem nos meus pesadelos mais medonhos.
O menino fantasma maldisse Maria — as palavras vieram carregadas de uma dor bruta, primitiva, impossível de repetir. Depois, ergueu os braços para o céu como se buscasse forças de algum lugar entre as nuvens sombrias.
E foi então que aconteceu.
Da pele dele começou a sair uma fumaça escura, espessa. Primeiro dos olhos, depois dos poros, como se o corpo fosse um carvão aceso por dentro. A fumaça subia devagar e tomava forma de nuvem, dessas que anunciam tempestade, com lampejos dentro. Um cheiro amargo preencheu o ar. Algo entre queimado e podre. Um cheiro que parecia vir do interior da terra.
O corpo do garoto virou pó. Não um pó leve. Um pó denso, como argila ressecada. Cinza escura. E antes que o vento o levasse, surgiu um redemoinho de névoa escura com pontos de luz piscando, como se relâmpagos estivessem acesos lá dentro. A névoa o envolveu inteiro. E então ele desapareceu — sugado de volta para dentro da escola, que agora estava completamente tomada pela escuridão.
O som que se seguiu não era humano. Era o som de algo vivo, mas não vivo como nós. Lembrava o grito dos corvos dos filmes de terror, só que mais grave. Mais profundo. Era um som que dava a impressão de que a realidade estava se rompendo aos poucos.
Senti tudo ao redor desabar. A mente não sabia mais o que era chão. O que era possível. O que era sonho. Eu estava em queda — e parado.
E foi nesse limiar que senti a mão. Fria. Forte. Segurando meu braço por trás. O susto me atravessou inteiro. A garganta se fechou. O peito apertou. Era como se um grito quisesse sair, mas tivesse ficado preso na espinha.
Virei-me achando que era o fim. Mas era Maria.
Estava calma. Inexplicavelmente calma. Só os olhos denunciavam alguma coisa — havia uma luz esquisita neles. Um brilho que não era dela. Ou talvez sempre tivesse sido, e eu só estava vendo agora.
Sem dizer nada, ela me puxou. Corremos. Nossos passos batiam forte no chão, misturando-se com os ventos e os gritos que ecoavam pela cidade, como se tudo estivesse rachando em volta.
Descemos a Avenida Antônio Mendonça, os paralelepípedos antigos parecendo tropeçar debaixo dos nossos pés. O sol, que ainda resistia no céu, estava baixo, lançando uma luz alaranjada que desenhava sombras longas, quase humanas, atrás de nós. Senti como se elas nos seguissem. Como se andassem com as próprias pernas.
Paramos numa mercearia à esquerda. O lugar era triste, soava cansado. A tinta das paredes descascava em pedaços, e o ar era uma mistura de mofo e fruta passada. Fiquei do lado de fora, zonzo, tentando entender o que ainda era real.
Maria entrou. Ficou um tempo lá dentro. Voltou com uma sacolinha que eu nem me importei em perguntar o que tinha. Ela se aproximou sorrindo, como se tudo fosse normal, e me abraçou pela cintura.
Continuamos andando.
Ela ia leve. Como se estivéssemos voltando de um passeio qualquer. Os olhos brilhando, a pele quente contra a minha. E eu? Eu era um monte de dúvidas com pernas.
Tentei falar. A pergunta veio tremendo:
— Maria… o que foi aquilo…?
Mas ela me interrompeu. Um empurrãozinho no ombro. Um beliscão leve, quase um carinho.
— Fique calmo e calado. Você vai saber. — disse ela, e desviou o olhar.
Seguimos até a Alameda das Grimpas. Viramos à esquerda. Lá ficava a bica. E o poço. O tal do Ribeirão. O coração das lendas.
A noite já vinha chegando. Um vento gelado nos tocava de leve, soprando pelas árvores secas. As folhas nem mexiam. Era um vento que andava com a gente. Nos rodeava. Sussurrava. A noite também parecia curiosa.
Chegamos à beira da bica, e ali o mundo era outro. Coaxos, trinados e murmúrios se misturavam ao barulho da água — a própria noite ganhava voz. Os sons vinham do outro lado do ribeirão, num chamado.
A água respingou nas minhas pernas. Fria. Um aviso. Olhei pra baixo. A queda d’água se desfazia no chão, correndo ladeira abaixo, decidida a chegar ao Poço Velho.
Maria chegou perto. Sem cerimônia. Encostou o rosto no meu, os lábios roçando minha pele num beijo gelado. Depois me olhou nos olhos com uma seriedade que congelava tudo ao redor.
— Vamos terminar o que começamos — sussurrou.
Não era um convite. Era uma sentença. E eu não sabia do que ela falava. Talvez soubesse, mas não queria saber.
Minha cabeça parecia cheia de fumaça. Cada pensamento se dissolvia antes de tomar forma. Mas meus pés se moviam. Segui Maria como se ela me puxasse por dentro. Descemos juntos a encosta, e paramos à beira do Poço Velho.
A água ali não era água. Era alguma outra coisa. Escura, espessa, cheia de vozes.
Na margem, uma pedra enorme coberta de musgo escondia a entrada de um túnel — um buraco escuro aberto embaixo da ponte da BR-153. A correnteza, antes mansa, ali ganhava uma força bruta, um ímpeto de quem protesta contra o que se faz ali.
A espuma das pedras estourava feito suspiro engasgado. O poço tentava avisar: Não entre.
Eu já tinha estado ali antes. Uma vez, só. Era criança. O sol se escondia atrás de nuvens pesadas, e mesmo com gente por perto, o lugar me arrepiou. Nunca mais voltei. E agora estava de novo ali, com Maria, como se fosse destino — ou castigo.
Diziam que o túnel engolia gente. Que sumia com quem tentava atravessá-lo. Diziam que nas noites de lua cheia dava pra ouvir gritos vindo de dentro. Que os que voltavam, voltavam diferentes. Cinzentos por dentro e por fora, feito gente de barro cinza.
Chamavam essas pessoas de Cadáveres de Argila.
Elas vagavam sem rumo, sem nome, sem vida. Só o rastro da maldição, como poeira nas calçadas da escola.
E ali estávamos nós.
Maria olhava o túnel com fome nos olhos. Como se enxergasse algo que eu não via. Como se estivesse prestes a alimentar uma coisa que mora lá dentro.
Eu tremia. Mas não conseguia sair.
A imagem dos velhos do asilo berrando durante a noite me invadiu. Os sons que vinham do outro lado da cidade, misturados aos gritos dos Cadáveres que se rastejavam nas calçadas da escola, formavam uma canção doída, feita de lamento e loucura. Uma música que grudava nos ouvidos da alma.
Tentei afastar os pensamentos. Balancei a cabeça. Mas eles me agarravam por dentro. Como garras invisíveis.
Foi o barulho do papel que me trouxe de volta. Maria abriu a sacolinha. Tirou algo embrulhado em jornal.
Era carne seca.
Mas não era como a que se compra no açougue. Aquilo era escuro demais. Gorduroso demais. Cheirava a coisa morta, coisa que não devia ser tocada. O sangue seco brilhava em fios densos. A gordura amarelada se espalhava pela carne como se ainda vivesse.
Levei as mãos à boca. Ao nariz. O cheiro me enjoava. A textura me revoltava.
Aquilo não era alimento. Era oferenda.
Maria rasgava a carne como quem conhece o ritual. Os dedos, agora quase garras, cortavam os pedaços com precisão animal. Um a um, ela lançava no poço. E cada novo pedaço parecia despertar a água — borbulhas surgiam, tímidas no começo, mas logo cresciam, se espalhavam, até que todo o poço começou a fervilhar. Como se respirasse. Como se sentisse.
A noite, antes silenciosa, começou a vibrar. O som das borbulhas era constante, invasivo, como o rosnar de uma criatura em agonia. Até o vento parou, como se o mundo esperasse.
E foi nesse momento que Maria me agarrou.
Não houve hesitação. Só força. Uma força que não cabia naquele corpo magro. Me puxou com violência. E quando percebi, já estava na água — cercado pelo calor das borbulhas e pelo frio cortante que vinha do fundo.
Afundei.
A água parecia viva. As garras de Maria me puxavam com fúria. Tentei nadar. Lutar. Mas ela me segurava. Do fundo do poço surgiram flashes de luz — breves, pulsantes O poço já não era só um abismo: era morada de espectros acesos. Maria chorava. Os olhos fixos em mim. A respiração dela… era caótica. Os movimentos, duros. Frios. Como os de quem executa uma tarefa. Uma missão.
Senti meu corpo pesar. A escuridão se fechava. O último pensamento que tive, antes de perder a luta, foi o rosto de Maria — distorcido, com um brilho nos olhos que não era dela. E o sorriso… torcido, oblíquo. O sorriso de quem guarda raiva nas entranhas.
Consegui me soltar.
Não sei como. O desespero, talvez. Ou a parte de mim que ainda queria viver. Empurrei-a para baixo com os pés e subi. Rompi a superfície e puxei o ar com a boca escancarada, os pulmões ardendo como se queimassem por dentro.
A lua se escondeu.
A escuridão era total. O poço, antes borbulhante, agora tremia — pequenas ondas se formavam, como se algo ali embaixo se agitasse, pronto para vir à tona.
Nadei. Como se fosse a última coisa que faria. Alcancei uma pedra escorregadia quase no centro do poço. Me agarrei a ela com todas as forças. Vomitei. Tossia a água escura como se fosse veneno. A cada espasmo, mais medo. Mais certeza de que eu não estava só.
Então, senti.
Não era ilusão. Era toque. Firme. Quente. Quase em brasa.
Uma garra.
Agarrou minha perna com força. Unhas afiadas, pele áspera. Escamas. Era como ser puxado por dentro de um pesadelo. Mas eu estava acordado. Eu sentia tudo.
Gritei.
O grito saiu como um raio. Rompeu a noite. Cortou as árvores. Subiu os morros. E dizem — ainda dizem — que foi tão alto, tão cheio de dor, que todos os cães da região uivaram juntos. Como se reconhecessem naquele som a presença da morte.
Chutei. Com tudo o que tinha.
E então, vi.
Era Maria.
Ou o que restava dela.
O rosto coberto de sangue. Os olhos vermelhos, quase saltando das órbitas. O cabelo grudado no rosto. Mas não era só isso. O que me arrepiou não foi o sangue, nem o olhar. Foi a ausência. Não havia mais humanidade nela.
— Me solta! Me solta! Você tá louca?! Tá querendo me matar?!
Minha voz saiu entrecortada. Mais medo que palavras.
Ela me olhou. E respondeu como se falasse de um passeio qualquer:
— Você já está morto. Não se lembra? Sua alma ficou no corredor da escola. Você me pagou pra dar fim à sua vida triste. Agora, seu corpo pertence às criaturas do Poço Velho. Àquelas que, daqui debaixo, reinam sobre o mundo lá de cima.
Ela cravou as unhas na minha perna.
A dor me atravessou. E com ela, veio a verdade. Um soco na consciência. Uma revelação que não pedia permissão.
Era eu.
O menino no corredor. O apaixonado. O abandonado. A sombra esquecida.
Era eu.
Uma parte minha que ficou lá, parada, encostada na porta da sala dos professores, cercada de risos. E essa parte cresceu sem mim. Apodreceu. Virou lenda. Virou carne de oferenda.
A realidade se quebrou como um espelho molhado. E cada caco refletia uma memória distorcida. O passado se mexia. O presente se dissolvia. E eu — eu não sabia mais quem era.
Fiquei ali, olhando Maria.
E no fundo, o que mais doeu não foi a traição. Foi o reconhecimento.
Ela sabia.
Desde o início, ela sabia.
Voltei a olhar para Maria. Seu rosto, antes angelical, agora distorcido e coberto de sangue, começava a mudar. As feições de ódio se dissolviam devagar, dando lugar a traços de arrependimento, culpa, compaixão. Havia uma batalha interna acontecendo dentro daquele corpo metamorfoseado em criatura do poço. Algo terrível, algo que tentava dominá-la por completo.
Dos seus olhos, brilhando sob o manto das trevas, rolaram lágrimas lentas, que ao se misturarem ao sangue formaram um traço denso, vermelho profundo, escorrendo pelo rosto até pingar na água. E o poço — sempre ele — reagiu. Agitou-se como se reconhecesse aquela dor, como se cada lágrima rasgasse a superfície e tocasse algo adormecido no fundo.
O tempo, por um segundo, pareceu parar.
Maria ergueu o rosto. Os olhos encontraram os meus. E neles havia um tipo de arrependimento que não se explica — só se sente. Um adeus trágico. Um pedido mudo de perdão.
Ela soltou minhas pernas.
A voz, quando veio, era frágil, mas firme como sentença:
— Fuja. Salve-se. Recupere sua alma.
E então, com aquelas palavras que traziam tanto bênção quanto maldição, ela abriu os braços e se deixou cair de costas na água borbulhante.
Enquanto afundava, acenou.
Nos lábios, um sorriso triste. Belo. Quase sereno.
Fechou os olhos.
E desapareceu — engolida pelas criaturas que moram nas profundezas.
Me vi só. Encharcado. Tremendo. À margem do Poço Velho, onde realidade e pesadelo já não tinham fronteira. Tudo era sombra e confusão. Mas uma coisa eu sentia com clareza — algo dentro de mim tinha se rompido. Ou renascido. E, no fundo, eu sabia: aquilo não era fim.
Esperei. O peito ainda em sobressalto, o corpo inteiro vibrando no compasso do medo. Então saltei da pedra. Cada músculo preso à tensão do desconhecido. Caí na água, e ela me envolveu com a frieza de dedos espectrais. Nadei. Braçadas curtas, desesperadas. O cheiro de lodo e de algo mais — algo medonho, vivo, e faminto — invadia o ar.
A floresta sussurrava. E eu ouvia.
Corri. A pele colada à roupa molhada, os pés batendo no chão duro como se quisessem esquecer o que haviam pisado. A respiração rasgava a noite. Os portões da escola estavam trancados. Do lado de fora, os Cadáveres de Argila rastejavam pelas calçadas. Seus corpos torcidos se moviam com uma graça doentia.
Saltei o muro da escola e entrei. O medo já tinha ficado para trás — ou virado outra coisa.
O nevoeiro me engoliu com lentidão. A umidade fazia o chão escorregar, e cada passo era como andar sobre a pele de um bicho adormecido. Foi então que percebi: minhas roupas, ainda molhadas, começavam a se transformar. Ganharam textura lodosa, brilho estranho, como se o mesmo raio que habitava o nevoeiro agora morasse em mim.
Arranquei tudo. Joguei contra a escuridão. E segui.
No corredor, estirada ao lado da sala dos professores, vi algo que parecia feito de vidro fosco. Era uma silhueta. Uma presença translúcida.
Era minha alma.
Cambaleei. O chão parecia vibrar sob meus pés. O ar, denso demais para respirar. Ajoelhei-me. A luz pálida das lâmpadas recortava minha sombra no piso frio. E ali, diante de mim mesmo, abracei o que restava — e pedi perdão.
Pelo abandono. Pela fuga. Por ter tentado desistir.
A dor que eu quis enterrar era um buraco negro. E eu quase me deixei levar
***
Maria nunca mais foi vista.
Não houve buscas. Nenhuma comoção. Nenhuma nota no jornal da cidade. Para todos os efeitos, ela apenas deixou de existir. Como se nunca tivesse pisado em Hidrolândia. Mas eu sabia. Eu sabia que, em algum ponto obscuro do fundo do poço, entre as camadas de argila viva e o lamento das criaturas, ela permanecia. Não como castigo. Mas como escolha: viver ou desistir.
E seu rosto — que antes me fascinava e depois me aterrorizou — agora morava em mim com a delicadeza trágica de um arrependimento sem volta. Quando fecho os olhos, vejo seu sorriso de despedida. Quando os abro, sinto sua ausência como um vento frio subindo pela espinha.
Desde aquela noite, algo se quebrou na cidade.
Os Cadáveres de Argila tornaram-se mais numerosos. Passaram a vagar sem rumo entre os becos, as calçadas, os arredores da escola. Mas ninguém falava deles. Os adultos desviavam os olhos. As crianças eram ensinadas a não perguntar. E eu… eu observava.
O horror não desapareceu. Ele se assentou.
Instalou-se como mofo nos muros da memória. A escola, o Poço Velho, a avenida de paralelepípedos, tudo permaneceu — mas com um brilho fosco, apagado. Como se o tempo tivesse seguido adiante, mas com as marcas de uma ferida mal cicatrizada.
E eu?
Fui embora.
Corri da cidade como quem foge de si mesmo. Troquei de paisagem, de nome, de rotina. Mas não adiantou. Porque levei comigo aquilo que mais me assombrava: a lembrança daquilo que fui. Ou daquilo que perdi.
Passei a vida procurando por sinais. Por alguma explicação que tornasse tudo suportável. Entrei em igrejas, bibliotecas, templos, consultórios. Nenhum santo, nenhum livro, nenhum diagnóstico deu conta do que me aconteceu.
Porque o que me aconteceu… foi eu mesmo.
Eu me perdi.
Naquele corredor. Naquela escola. Naquele amor não correspondido. Naquela dor que preferi calar. Minha alma ficou ali, encostada na parede, enquanto o resto de mim atravessava os dias como um sobrevivente sem corpo.
E mesmo agora, décadas depois, quando olho pela janela e vejo o luar filtrado entre as árvores de uma cidade estrangeira, ainda me pergunto se realmente consegui resgatá-la.
Minha alma.
Se aquele abraço com o eu que encontrei no corredor foi suficiente para reintegrar o que eu era. Ou se apenas criei mais um fantasma.
Talvez por isso eu escreva.
Talvez por isso este relato exista.
Não como exorcismo. Mas como testamento.
Um aviso.
Um grito abafado aos que se aproximam do Ribeirão das Grimpas buscando purificação, redenção ou esquecimento: há lugares que não devolvem o que tomam. E há dores que preferem viver em silêncio.
Maria sabia disso. Eu não soube.
A cada nova cidade, um novo começo; e, com ele, os mesmos fantasmas.
As pessoas me achavam quieto demais, arredio, pensativo. Diziam que eu tinha “olhos de quem viu coisa”. E viram certo. Mas como explicar o que nem eu compreendia? Como contar que o barulho de uma torneira pingando podia me transportar de volta à bica? Que o cheiro de terra molhada me fazia tremer, como se as garras da criatura do Poço estivessem de novo nas minhas pernas?
Foram anos vivendo como uma sombra de mim mesmo — alguém que sobreviveu à própria morte, mas que nunca reaprendeu a viver. O grito do menino apaixonado, o olhar de Maria se dissolvendo nas águas, o redemoinho de névoa escura… tudo isso virou matéria da minha carne. Eu não era mais um corpo tentando reencontrar a alma. Eu era a própria ausência tentando fazer sentido.
Só anos depois — muito depois — entendi o que significava recuperar a alma.
Não era voltar no tempo. Nem desfazer o que foi feito.
Era aceitar. Era olhar no espelho e dizer: “eu fiquei”.
E me estender a mão.
E me trazer de volta.
Hoje, escrevo isso como quem escreve um último bilhete a si mesmo. Não por saudade, tampouco por redenção. Mas por um certo compromisso com a memória — a minha e a dos que, como eu, atravessaram o horror com os olhos abertos e o coração aos pedaços.
E mesmo depois de tanto correr, atravessar cidades, mares e línguas — mesmo depois de me reinventar mil vezes, de rasgar passaportes e me afundar em terapias e silêncios — o que encontrei no fim da estrada foi sempre o mesmo reflexo me observando: olhos meus em corpos alheios, medos meus em nevoeiros urbanos, ecos meus nos corredores de escolas que não eram mais a de Hidrolândia, mas que guardavam o mesmo cheiro de jasmim e argila.
Entendi, por fim, que não era a cidade que me prendia.
Nem Maria. Nem o Poço. Era eu.
Eu era o poço, o nevoeiro, o menino que ficou no corredor, o que fugiu, o que quis morrer e o que tentou voltar.
A cidade ficou para trás, mas o grito — o grito que rasgou a noite e fez os cães latirem — esse nunca cessou aqui dentro.
Porque a verdade, a mais dolorosa de todas, é que o terror de Hidrolândia — com sua escola maldita, sua água escura, seus cadáveres de argila — não era nada… nada comparado ao horror de viver o tempo todo com o meu maior inimigo: eu.
E se um dia você for a Hidrolândia, vá com cuidado. Não encoste nos muros da escola. Não se aproxime do Poço Velho. E jamais, em hipótese alguma, aceite moedas de uma menina de olhos castanhos e voz firme.
Eber Urzeda dos Santos
Nuremberg – 17/10/2017
Conto – O horror de Hidrolândia
Coleção: Trevas do Eu
“Esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência”.
Gostou do conto? Deixe sua opinião nos comentários abaixo ou entre em contato com o autor diretamente aqui! Se você acha que essa história pode interessar a alguém que conhece, compartilhe com seus amigos e familiares.
Contato:
Envie um email para contato@urzeda.com
ou visite nossa página de contato!